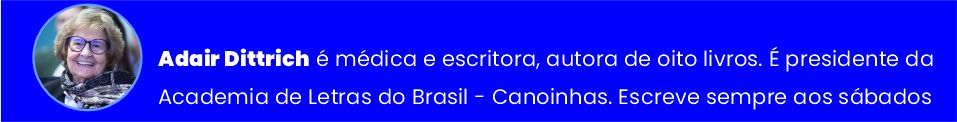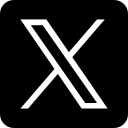O filme Ainda Estou Aqui – premiado com o Oscar de melhor filme internacional – é pleno de cenas implícitas
Imagens do passado voluteiam em minha mente enquanto outras desenrolam-se na tela à minha frente.
Em um asqueroso catre encontra-se uma mulher enfiada em um trapo encardido que a tantas outras já teria servido de pardo camisolão, talvez…
Na abjeta parede escura a seu lado, furiosamente, ela traça brancos riscos com o auxílio de um toco de pedra ou caco de vidro, talvez…
Riscos verticais, curtos e brancos a marcar os dias de seu cativeiro.
Uma escura parede marcada por uma vida sem um ínfimo raio de sol que a tornasse menos lúgubre. Uma parede impregnada de escura e pegajosa umidade acumulada pela escuridão dos tempos. Um negro visgo do teto a escorrer.
Entre um branco risco e outro marcado na asquerosa parede faziam-na debruçar-se sobre arquivos carregados de fotografias em branco e preto. Fotografias de pessoas. De pessoas como ela, de pessoas como seu marido que um dia fora extraído de sua casa para uma conversa com a autoridade de plantão e nunca mais voltou.
Apenas o rosto e os ombros de cada ser ali exposto para que ela fornecesse a identidade completa, o endereço… e o que faziam…
Enquanto estas cenas deslizam na tela à minha frente vejo Gecy, esposa de meu irmão Aldo, vestida com a roupa verde oliva, enfiada em uma sala, à frente de um inquisidor que retratos de outros personagens lhe mostrava.
Gecy lá ficou por um dia inteiro sendo interrogada. O local era o Doi – Codi, em São Paulo. Submetida fora às mesmas técnicas inquisitórias ancestrais, tal como Eunice Paiva.
Aldo encontrava-se preso no Doi-Codi, em São Paulo. Paiva em uma masmorra no Rio de Janeiro.
Entre um branco risco vertical naquela nauseabunda parede e as idas aos gabinetes das contundentes inquisições por escuros corredores passava Eunice a ouvir lúgubres gemidos.
Certo dia, um grito ecoa de sua alma ao encontrar em um dos arquivos a imagem de sua adolescente filha. Um estridente grito de dor que atravessou paredes e corredores e reverberou pelas ruas e praças.
Certa vez, em seu desfile diário pelos corredores soturnos ela vê a sua menina encapuzada dentro daquele mesmo espaço e sofrendo, talvez, as mesmas angústias, a ouvir os mesmos impropérios que de conspurcadas bocas saíam. O punhal em seu coração atravessado foi uma vez mais.
Falo das cenas do premiado filme Ainda estou aqui, de Walter Salles. Um filme que não mostra os horrores a que milhares foram submetidos nos negros porões da ditadura militar. Não, as imagens das torturas diárias não são mostradas. O filme é pleno de cenas implícitas. Cenas que nos levam a entender o horror a que submeteram Eunice Paiva. Cenas que nos levam a entender o horror a que submeteram milhares de brasileiros.
Impressionante as imagens que se seguem após sua libertação.
Um banho, finalmente, em sua casa. Um banho após tantos dias naquela nojenta masmorra. Um banho com água em abundância a jorrar do chuveiro…. Um banho com uma esponja em suas mãos e a branca espuma a escorrer. Esfrega a esponja ensaboada com firmeza e movimentos rápidos e ritmados em seus braços, em seu ventre, em suas costas, em suas pernas… na tentativa de expurgar a acumulada sujeira de seu corpo… a expurgar as nódoas que macularam sua alma…
São estas cenas que fazem o espectador participar de uma história que é real. Cenas que marcam pelas mensagens implícitas.
No início do filme, uma família normal em torno de uma mesa de café, de almoço ou de jantar, a ver televisão, a divertir-se na praia. Felizes a jogar vôlei ou futebol na areia, a passear de carro ou a pé pela cidade maravilhosa. Uma família normal com o sagrado direito de ir e vir. Sorridente.
— Sorriam! Vamos todos sorrir para perpetuar esta alegria em uma fotografia.
Quando levaram Rubens Paiva de sua casa para o calabouço de onde nunca mais voltou vestiu-se ele como quem vai a uma reunião. Terno e gravata. Significativa cena de quem nem sequer imagina que seria levado para o cárcere. Para a morte.
Eunice Paiva peregrinou de repartição em repartição, de escritório em escritório a fim de conseguir alguma notícia de seu marido. Bateu de porta em porta em buscas de notícias. Procurou por todos os meios possíveis e encontráveis em um regime de exceção pedindo a sua liberdade.
Num repente a família recebe a triste e estranha notícia. A notícia da morte de Rubens Paiva. Nesse momento alguém pergunta:
— Mas… e o corpo?
Não havia corpo. Como não houve o de centenas de outros que pelo mesmo patíbulo passaram…
Lançaram-no ao mar do alto de um helicóptero. Talvez de um avião. Ou enterraram-no em alguma praia deserta em algum ponto do extenso litoral do Rio de Janeiro.
Assim como lançaram para as profundezas do oceano ou em praias desertas enterraram centenas de outros, centenas de outras que pelas mesmas torturas passaram… que das mesmas torturas não sobreviveram…
Naquela época os trens de passageiros ainda circulavam através dos trilhos da rede ferroviária. Os ferroviários que da estação de União para São Francisco viajavam à serviço, na litorânea cidade pernoitavam. E escabrosas histórias, veladamente, tinham para contar.
Viram, com seus próprios olhos, cadáveres jogados nas praias. Cadáveres que o mar devolveu porque a ele não pertenciam. Cadáveres de homens, cadáveres de mulheres. cadáveres com roupas civis ou com uniformes das forças armadas. Cadáveres meio putrefatos. Alguns sem algum dos membros inferiores ou superiores. Outros já meio carcomidos. Nunca, no entanto, eles contaram se aqueles corpos foram submetidos a algum exame médico legal.
Eunice e seus filhos nunca souberam em que ponto do Oceano Atlântico jaz o corpo de Rubens Paiva. Ou em que ponto do litoral do Rio de Janeiro ele foi soterrado.
A família parecia não achar mais graça nas idas à praia. Já não havia luz em seus olhos ao andarem pela casa. Faces tristes a ver a vida correr.
Eunice continuou firme. Não demonstrou o abatimento que lhe corroía a alma.
Batalhou, e muito, em prol de causas consideradas perdidas, já em sua nova morada na capital paulista.
A atriz Fernanda Torres é a própria Eunice Paiva. Sente-se em sua face, em seu olhar, num leve esgar da boca as emoções tumultuadas pelas quais passou a personagem que interpreta.
Um filme que veio mostrar, sutilmente, o horror de uma época de chumbo.
A pior democracia é sempre melhor que a melhor ditadura.
Esperemos que o Brasil se una e que jamais permita uma nova ditadura a conspurcar a nossa história uma vez mais.
Ditadura, Nunca Mais!